Obviamente, estabelecer
paralelismos entre géneros como puzzle, visual novels e platformers é complexo,
senão impraticável; porém, comparar um jogo roguelike com um comum platformer,
aventura de ação, TBRPG, etc. é o meu pão de cada dia. Mesmo que tenham nascido
como um subgénero de aventuras RPG, hodiernamente os roguelikes não são definidos
por um estilo de controlo, pela perspetiva do jogador, ou pela cadência da
jogabilidade, mas sim por critérios estruturais. Os principais são a geração
procedural de mapas/níveis e morte permanente, mas usualmente também
encontramos uma segmentação por níveis com inimigos progressivamente mais letais,
e a opção de obter melhorias temporárias a cada desafio superado. Consequentemente,
dificilmente uma experiência é descrita unicamente como um roguelike, havendo
sempre um casamento de géneros: Slay the Spire é um roguelike de cartas,
Dead Cells é um roguelike metroidvania e Splatoon 3: Side Order é um shooter roguelike. E é precisamente por esta maleabilidade do género que me
sinto à vontade para declarar: não gosto minimamente de roguelikes.
Antes de prosseguir, sinto-me na
obrigação de frisar que nem as críticas nem as definições que exponho se
aplicam a todas as propostas do estilo. Não há uma definição definitiva de roguelike,
porque nem os roguelikes adotam dogmaticamente todos os postulados que
enfatizei. Muito menos ousaria ou desejaria que este artigo fosse encarado como
uma tentativa de bater o pé e assertar uma verdade incontestável: apenas
partilho a minha perspetiva, com igual validade à dos jogadores que apreciam
este estilo de experiências, e que nem sequer é uma opinião transversal ao resto da equipa do GameForces. Na verdade, se alguma perspetiva é contestável, é
a minha: um elemento de que desgosto é um elemento com o qual evito interagir, o
que significa que poderei estar insuficientemente atualizado dos recentes aperfeiçoamentos
da fórmula, ou mesmo desconhecer que os pontos que levanto são inválidos fora
da bolha de roguelikes que testei.
Apesar destas limitações, não
consigo calar o meu ímpeto de me pronunciar, porque os rogueli*es, que
se estrearam no universo indie, estendem languidamente os seus rizópodes
para os AAA, e tudo indica que vieram para ficar. Tal e qual como os
protagonistas dos roguelikes, que se recusam a aceitar o descanso eterno
por mais mortes canónicas que sofram.
Sim, esta foi a minha tentativa atrapalhada
de fazer uma transição suave para o primeiro tema desta dissertação: a morte
permanente. Com esta imposição, os roguelikes recuperam o estilo de
dificuldade característico de árcades, ao limitar-nos a poucas ou uma única tentativa
para lidar com uma campanha completa, plena de inimigos imponentes. Consequentemente,
os “Game Overs” são uma constante e, sem checkpoints, acarretam um ciclo
de tentativa, morte e repetição que encaro como extremamente
moroso e monótono.
Acredito que a popularização deste género tenha raiz no descontentamento com a busca pela acessibilidade dos jogos e resultante banalização da dificuldade, o mesmo descontentamento que incubou uma audiência fervorosa para os souls(likes). Enquanto jogador e pessoa que se sente constantemente pressionado pela passagem inexorável e impávida do tempo, encaro este impacto acrescido dos game over como uma punição severa e horrífera. Como consequência direta deste pavor, o meu estilo de jogo num roguelike privilegia a sobrevivência para evitar repetir sempre as mesmas tarefas como um operário fabril, por vezes em detrimento do aproveitamento holístico do combate e da diversão que dele poderia advir (por mais que esteja ciente dos avisos de GMTK).
Sou incapaz de encontrar uma justificação válida para a obrigação de fuzilarmos recorrentemente os inimigos mais fracos dos
primeiros pisos até enfrentarmos aquele que travou o nosso progresso; até
pondero se não constitui uma forma de backtracking,
uma artimanha normalmente olhada negativamente na indústria e, quando desinspirada, empregue com o
mesmo objetivo forreta: inflacionar o tempo de jogo sem escalar os custos de
desenvolvimento.
Ao experienciar Hades e outros
irmãos roguelikes, a minha massa cinzenta dedicou-se a 95% ao jogo e
alocou a reserva cognitiva a um cronómetro cumulativo, com a singular (mas meritória) função de contabilizar as runs em que sou filtrado num mesmo ponto de
progresso, usualmente um boss. Noutros jogos, estes fracassos conduziriam
a um breve ecrã de loading e quiçá uma dica condescendente ou uma
provocação do nosso assassino antes de reiniciarmos o confronto; num roguelike,
marcam o início de uma longa e extenuante penitência por todos os testes
que já superámos, no que encaro como um dos maiores e mais desrespeitosos
desperdícios de tempo globalmente aceites na indústria dos videojogos.
Nem posso conceder que esse
conteúdo que engolimos ad infinitum seja merecedor de todo o tempo de jogo
que acaba por lhes ser dedicado, porque outro marco central dos roguelike consiste
no conteúdo proceduralmente gerado. Ou seja, numa boa parte das propostas deste
género, dificilmente experienciamos duas vezes o mesmo desafio dado que, a cada
tentativa que iniciamos, os níveis que percorremos são construídos pelo
algoritmo do jogo, obedecendo a alguns parâmetros estabelecidos pelos
desenvolvedores. Na teoria, é um princípio genial: se o percurso até aos
créditos é trilhado em inúmeras tentativas e derrotas, porque não utilizar
aleatoriedade para diferenciar cada run e mitigar potenciais sentimentos
de repetição?
Na prática, as limitações do
algoritmo resultam em clusters de arenas indistinguíveis para os miopes
e astigmatas, para não colocarem em causa o balanço da experiência ou a exequibilidade dos níveis. Um milhão de possibilidades matemáticas unem-se num singular borrão indistinto e num permanente déjà vu. Em adição, os níveis
tendem a privilegiar o combate em detrimento de outras valências porque,
controlando a quantidade e tipologia de inimigos e hazards despejados no
mapa, é mais fácil estabelecer e progredir desafios do que em dimensões como exploração, nas quais só um designer humano é capaz de ditar ponderação e propósito
em cada byte escrito (algo reconhecido por títulos como Shovel Knight Dig, que encaixam segmentos criados por humanos entre si como blocos de Tetris,
resolvendo este problema, mas carregando no acelerador quanto à repetição).
Colossal é o fosso entre o
conteúdo criado por IA e por humanos, com a omnipotente mente humana a
representar uma condição sine qua non para a conceção de uma obra com
significado e representativa de uma visão e ímpeto artísticos, em vez de um
produto derivativo e ensimesmado. Cada obstáculo proceduralmente gerado que
ultrapassamos encerra uma oportunidade desperdiçada pelos desenvolvedores de
criarem um segmento polido, imaginativo e, quem sabe, icónico: o seu 1-1 de Super
Mario Bros., ou Don't Make a Sound de Pizza Tower, ou Meat Circus de Psychonauts, ou Path of Pain de Hollow Knight.
Esta aleatoriedade também se
repercute negativamente quando supero uma destas experiências. O subsequente sentimento de
triunfo é ofuscado pela dúvida desconcertante de quanto da minha vitória se deve
às minhas habilidades e quanto desta é explicada por um golpe de sorte nos layouts
dos níveis ou nas melhorias temporárias obtidas (ou, num roguelite, às
melhorias permanentes que adquirimos e que reduzem o limiar de competência para
a finalização da provação).
O papel da sorte impacta
adicionalmente a minha postura quanto ao valor de rejogabilidade da
experiência, nomeadamente ao nível da otimização de recordes. A diminuição do
tempo de conclusão de um jogo linear e imutável significa, regra geral, que
nalgum momento da jogatina o jogador avançou de forma mais habilidosa ou perspicaz,
ou que soube otimizar o seu trajeto e estratégia; a mesma melhoria cronometrada
assume tons turvos num roguelike, com a variabilidade de recordes a
traduzir em parte a diversidade dos arranjos e seleções mais ou menos afortunadas
de inimigos, pickups, etc..
Se vejo diminuto apelo na
perseguição de recordes, apenas sobra o prazer dos combates para me motivar a permanecer no mundo de jogo. Colocando a ironia de lado, dou a mão
à palmatória nesta dimensão da experiência: se nos testes mais árduos do comum videojogo podemos
recorrer à construção e imediato descarte de muscle memory ou mesmo a
subterfúgios como cheese, a inconstância das arenas dos roguelike e
a impiedosa permadeath tornam a maestria do sistema de combate numa
condição necessária para o nosso sucesso, mesmo que a minha motivação para a
esculpir seja despachar o título tão depressa quanto possível e que esteja
condicionada pelo supramencionado receio de perecer – tanto que, em God of War Ragnarök:
Valhalla, recorri constantemente a ataques rúnicos e à plenitude das ações de
Kratos, apesar de ter terminado God of War (2018) e Ragnarök apenas com parry,
arremessos e dois ou três ataques de confiança do machado Leviatã. Contudo,
a conclusão da aventura marca igualmente a conclusão desta jornada de aprendizagem,
e o meu primeiro impulso após emergir de uma época de exames extenuante nunca foi
voltar a mergulhar a cabeça nos livros.
Em suma, misturando todos os dissabores que expus e relembrando que apenas estou a partilhar a minha opinião
pessoal, considero que um título roguelike é um projeto que cospe no meu
tempo, pela insuportável repetição, e na minha inteligência, através do
conteúdo proceduralmente gerado. É uma experiência criada em modo poupança, não
só de recursos, mas também de criatividade, com uma mistela de ambientes, obstáculos e
inimigos a ser atirada para a varinha mágica e servida no prato
com a mesma pompa de uma iguaria meticulosamente preparada por chefs.
 Reviewed by Tiago Sá
on
março 25, 2024
Rating:
Reviewed by Tiago Sá
on
março 25, 2024
Rating:





















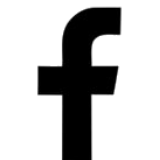

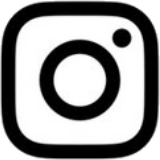





Sem comentários: