Se há séculos e milénios atrás as
mitologias eram uma inspiração para como os povos vivam as suas vidas, ou para
explicar o inexplicável, hoje em dia são a base de tantas das histórias que
consumimos. Em particular, a mitologia grega parece ser uma fonte de Peirene no
que toca à infindável inspiração que dá a este meio. God of War
(que até já molhou o pé na mitologia nórdica) e Hades são dois
excelentes exemplos, mas é agora, em Stray Gods, que encontramos a
proposta mais diferenciada: um RPG musical. Conseguirá este jogo seduzir-nos,
qual musa inspiradora, ou far-nos-á desejar a rogar pragas aos deuses?
Em Stray Gods, assumimos o papel
de Grace, uma jovem recém desistente universitária que se sente à deriva na
vida, sem saber que papel tem no mundo. Até que um dia, durante umas audições
para a banda que tem com a sua melhor amiga, conhece Calliope, uma aparente
jovem com uma voz divinal capaz de trazer ao de cima toda a vivência emocional
de quem canta com ela. Mas essa noite, Calliope aparece mortalmente ferida à
porta de casa de Grace, e ao morrer-lhe nos braços passa-lhe o seu poder e
torna a nossa protagonista uma Musa. Contudo, rapidamente os restantes deuses gregos
ficam a par do que aconteceu, acusando Grace de assassinar Calliope para lhe
tomar os poderes, a imortalidade e condenando-a à morte. Assim, partimos numa
aventura emocionante e muito musical, na qual teremos de ajudar Grace
a provar a sua inocência, enquanto lidamos com os problemas, com os egos e com
os desejos do restante panteão divino.
A narrativa é sempre bastante intrigante,
com um bom número de momentos que nos arregalaram os olhos. A revelação deste
“Cluedo” mitológico é bastante satisfatório e deixa o mundo numa situação
bastante mais interessante do que quando o jogo começa. Apesar de louvarmos a
qualidade da escrita e ficarmos bastante cativados com os diálogos, é graças às
personagens que tudo isto cola tão bem. Depois de quase 20 horas de jogo
distribuídas por várias playthroughs, fechar o jogo pela última vez
deixou-nos com um peso no coração. Vamos sentir falta do oportunismo engraçado
de Pan, da implacabilidade prática de Persephone, da disponibilidade
desajeitada de Asterion, e de tantas outras personagens tão bem construídas.
Todas elas são um misto de verosimilhança e coerência mítica, um equilíbrio
impressionante entre o realismo e as histórias heróicas que todos conhecemos. E
depois de tanto tempo de jogo, por entre romances, traições, erros e empatias,
são quase como uma família para a Grace e, por extensão, para nós.
O modo como vamos participando nesta
história e nos seus acontecimentos é extremamente simples. Muito basicamente, é
através de um sistema de opções de diálogo, de escolha e consequência.
Dirigimo-nos a uma personagem, surgem até quatro opções de diálogo, escolhemos
a que achamos melhor, e vemos como a conversa vai evoluindo a partir daí até
terminar. Depois, passamos para outra conversa, para outro local ou para uma
sequência musical, onde teremos de ir fazendo novas escolhas. Já conseguimos
ver a tentação de alguns vós em rotular este jogo como adjacente à fornada de títulos
da Telltale Games, mas com uma gimmick. O que não é verdade por duas
razões.
A primeira é porque o facto de isto ser
um musical não é uma mera gimmick. É durante os momentos musicais que os
maiores conflitos narrativos e as cenas de ação mais sumarentas se desenrolam. Os
poderes de Grace fazem com que ela consiga levar todos os outros, sejam deuses
ou mortais, a cantar, e é durante estas canções que abrem o coração e a ficam
mais suscetíveis à mudança e ao crescimento emocional. Para além de uma opção
de design de jogo brilhante - pela coerência com os poderes de uma das Musas na
mitologia grega e pelo facto de a música ser, de facto, um veículo emocional
potentíssimo -, ficámos sempre entusiasmados quando a imagem passava para uma
vista panorâmica e quando Apolo, Athena, e companhia desatavam a cantar.
Sabíamos que algo importante ia acontecer, que um arco narrativo de uma ou mais
personagens ia avançar ou que íamos ficar um pouco mais perto de resolver este murder
mystery de proporções míticas.
A segunda razão prende-se com o facto de
as nossas escolhas terem, de facto, algum peso no desenrolar da narrativa. O
grande mistério central que serve de motivação para toda a história de Stray
Gods é sempre o mesmo; quando ficamos a saber quem é o/a responsável pela
morte de Calliope numa playthrough, sabemos para todas. Mas tudo o resto
é passível de ser impactado pelas escolhas que fazemos ao longo de cada
campanha: se personagens vivem ou morrem, se ficam em liberdade ou se acabam
encarceradas, se adoram a humanidade ou se a desprezam… Inclusive se se querem
envolver romanticamente com Grace ou não. Portanto, é através das nossas
decisões que muito do conteúdo dos arcos narrativos das várias personagens se
desenrola e se decide, e ficamos com a sensação de que a natureza das respostas
que damos afeta este mundo de forma significativa.
De facto, é no que diz respeito à
natureza das respostas que entra a parte do desempenho de papéis do subtítulo
deste jogo – The Roleplaying Musical. Logo a abrir o jogo, assim que
conhecemos Calliope, somos forçados a escolher um atributo à nossa Grace:
encantadora, durona ou esperta. Estes atributos de personalidade desbloqueiam,
respetivamente, opções de resposta empáticas, agressivas ou inteligentes. Ou
seja, apenas se a nossa Grace for durona, por exemplo, é que podemos escolher
as respostas mais agressivas durante as conversas com outras personagens; e
neste caso, as opções mais empáticas e mais inteligentes passam a estar sempre
bloqueadas. Portanto, há aqui uma componente de desempenho de papéis, na medida
em que vamos moldando quem Grace é e como esta afeta as pessoas e o mundo a seu
redor através da escolha deste atributo inicial e das escolhas que vamos
fazendo ao longo da narrativa. Mas não é um RPG puro, como o subtítulo pode
levar alguns a deduzir. Não há habilidades ou capacidades que vamos melhorando
e, com isso, novas opções que vão sendo desbloqueadas (por exemplo, respostas
mais inteligentes que requerem níveis diferentes de esperteza). Nada disso. E
não estamos fazemos esse esclarecimento por considerar isto um defeito, mas
apenas porque sentimos que é algo que deve estar claro para todos os
interessados nesta valorosa experiência.
Mas desengane-se quem achar que lá por Stray
Gods não ser um RPG no sentido moderno do termo, que não há aqui muito
conteúdo para experimentar. Para além dos inúmeros desfechos que temos vindo a
referir, há uma quantidade absurda de linhas de diálogo para explorar, várias
opções de romance para explorar (ou não), e mais combinações de músicas do que
as que conseguimos calcular. Sim, porque as escolhas que temos de fazer nas
músicas não se encontram vinculadas ao atributo, podendo misturar opções
agressivas, inteligentes e empáticas consoante nos dá nas ganas.
O melhor é que todas essas misturas
acabam sempre para fazer sentido – algumas mais do que outras, mas fazem sempre
algum sentido. E sim, todas as opções de diálogo também fazem sentido, mesmo
quando saltitamos entre as neutras e dos atributos, nunca havendo uma única
escolha que não corresponda bem ao que se passa depois. Se escolhemos a opção
que diz “Está tudo bem,” o diálogo a seguir reflete que está, de facto, tudo
bem, não ativa uma cena passiva agressiva onde se insulta a família inteira do
interlocutor.
Portanto sim, Stray Gods: The
Roleplaying Musical é um jogo com um valor de rejogabilidade muitíssimo
elevado. Quem for fã deste género de jogos tem imenso conteúdo para explorar, e
imensas combinações de diálogos e de estrofes musicais para aproveitar,
transformando as cerca de 20 horas que jogámos em mais de 50 horas de jogo muito
boas. Sim, porque nada disto valeria a pena se as músicas não fossem de enorme
qualidade (e são), ou se os desempenhos dos atores não fossem exímios (e também
são).
A música é sempre cativante, sendo quase
garantido que ficará no ouvido de qualquer jogador, mesmo que não se fique
propriamente com vontade de ir a correr para o Spotify para as ouvir de novo.
Mas não deixa de ser um trabalho fenomenal de Austin Wintory – mais um, diga-se
-, onde cada trilha e cada verso contribuem tanto e tão bem para o peso
emocional das respetivas cenas e para a progressão da narrativa. E claro, o
incontornável Troy Baker é brilhante enquanto Apollo, a brilhante Mary
Elizabeth McGlynn é fantástica enquanto Perspephone, e todo o resto do elenco é
estupendo nos seus desempenhos, tanto em diálogo como em canção. Mas claro, o
destaque tinha que ser dado à sempre fenomenal Laura Bailey, com um desempenho
tão cativante e inspirador quanto deve ter sido desafiante no papel da nossa protagonista,
Grace.
O facto de Stray Gods ter uma
direção artística bastante apelativa também ajuda a tornar toda a experiência
tão cativante. Todo o jogo apresenta um estilo visual à la banda
desenhada, com cores bastante vívidas e com uma boa utilização de contrastes e line
art para dar um aspeto memorável à experiência. Houve apenas um momento ou
outro em que a câmara parecia estar demasiado próxima das personagens, tornando
as imagens dos seus modelos algo desfocadas. A maioria das animações também se
apresentam como algo que faz lembrar transições de um painel para outro, tal e
qual como numa banda desenhada. E ainda bem que assim o é, porque as poucas
vezes que o jogo tenta mover a câmara… não corre muito bem: a taxa de
fotogramas nunca passa dos 15 por segundo. Perguntamo-nos porque é que não se apostou
única e firmemente no estilo de banda desenhada, e lamentamos este problema.
Apenas acontece numa parte da história, mas lamentamos na mesma.
Por fim, não temos qualquer prazer em
falar de outros aspetos mais técnicos de Stray Gods, porque é aqui que o
jogo fraqueja mais notavelmente. Primeiro, e o mais óbvio, é o facto de haver
cenas em que a mistura de som dos diálogos está bastante inconsistente. Por
exemplo, as falas de duas personagens estavam no volume habitual, mas o de uma terceira
estava bastante mais baixo, dificultando a audição da conversa toda sem manusear
o volume da nossa TV com reflexos incríveis. Há também duas ou três instâncias
em que vemos personagens a aparecer nos painéis quando não é suposto estarem na
cena, no que parece ser uma má leitura das decisões tomadas até esses pontos,
já que são personagens cuja presença ou ausência dependem das escolhas que
vamos fazendo até então. E temos também de referir que o jogo pode ser muito
pouco responsivo a ler os nossos inputs de escolha da fala ou verso musical a
seguir. Foram várias as ocasiões em que o manusear do analógico correspondente
não surtiu qualquer efeito no ecrã, tornando os momentos em que a escolha tem
tempo limite algo problemáticos.
Conclusões
Stray
Gods: The Roleplaying Musical é uma ode triunfal a
uma ideia única e de difícil realização. A história é muito boa, a quantidade e
variedade de escolhas e consequências é verdadeiramente impressionante, e o
trabalho aqui colocado para que tudo fizesse sentido lógico e narrativo é
sublime. As músicas são divinais, os desempenhos de todos os atores são
perfeitos, sem exceção, e apenas não tem um lugar cativo no Olimpo por vários
problemas técnicos que atestam que o jogo foi criado por mortais. Ainda assim, e
porque nos deixou sempre com música no coração, é uma obra bastante digna de
entrar no Panteão.
O Melhor:
- História intrigante com personagens
estupendamente bem construídas
- Músicas de grande qualidade e muitíssimo
bem integradas na narrativa
- Desempenhos absolutamente exímios de todo
o elenco
- Grande valor de rejogabilidade
O Pior:
- Mistura de som dos diálogos algo
inconsistente
- Alguns bugs e problemas gráficos
ocasionais
- Por vezes, os comandos são pouco
responsivos
Pontuação do GameForces – 8/10
Título: Stray Gods: The Roleplaying
Musical
Desenvolvedora: Summerfall
Studios
Publicadora: Humble
Games
Ano:
2023
Nota: Esta análise foi realizada
com base na versão digital do jogo para a PlayStation 5, através de um código
gentilmente cedido pela Humble Games.
Autor da Análise: Filipe Castro Mesquita
 Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
agosto 31, 2023
Rating:
Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
agosto 31, 2023
Rating:
 Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
agosto 31, 2023
Rating:
Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
agosto 31, 2023
Rating:




















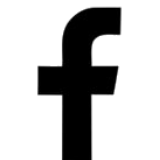

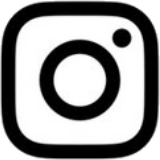





Sem comentários: