Há algumas palavrinhas mágicas que os redatores de análises gostam de usar, quiçá em demasia. Adjetivos como “único” e “imersivo” aparecem recorrentemente nas análises dos jogos dos mais variados gêneros, muitas vezes sem serem devidamente elaborados ou justificados. Se o carácter “único” dos títulos pode ser imediatamente evidente, sendo decorrente da presença de elementos incomuns ou inusitados na experiência, o que significa dizer que um jogo é imersivo?
Desde logo, na minha interpretação e (ab)uso da palavra, considero
que estou imerso num jogo quando me envolvo o suficiente na experiência para me
abstrair do mundo real, Nestes títulos, dedico todo o meu pensamento e
raciocínio à concretização de objetivos virtuais ou exploração, perdendo a noção da
passagem do tempo ou das obrigações da vida. Pronto, pergunta respondida num artigo curto; vejo-vos
depois de todos acabarmos Tears of the Kingdom? Não, falta esclarecer: o
que está na origem desse atributo?
Tal como a própria diversão, a imersão é uma sensação
profundamente subjetiva e pessoal, dependente das sensibilidades e preferências
de cada jogador. Por isso, para responder a esta questão, vou conciliar a minha
perspetiva com algumas apreciações que os nossos colaboradores teceram
em análises passadas.
Para começar, na análise de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition de Vítor Carvalho,
ele afirma que “a realização de missões secundárias em vez de grinding
contribui para a imersão no belíssimo mundo de Xenoblade Chronicles”. Um tópico
interessante é levantado: a nossa relação com o mundo. Na trilogia Xenoblade
Chronicles, as sidequests permitem-nos perceber como é que as
civilizações do mundo operam e estão estruturadas e aprofundar a relação com os seus habitantes, tornando os três universos da série pulsantes e profundos.
Esta relação de proximidade com os cenários de jogo só pode
ser concretizada se estes apresentarem plausibilidade. Neste aspeto, Bruno Neves elogiou Wonder Boy: Asha in Monster World
com base na coerência temática dos locais, roupas, armas e personagens, e eu
opto por destacar a série Luigi’s Mansion, que incorpora dois títulos que, pelo
seu contraste, tornam este ponto evidente.
Embora Luigi’s Mansion 3 seja uma campanha de elevada
qualidade, esta experiência tem deslizado gradualmente da minha memória e vai perdendo
o meu apreço, pura e simplesmente pela sua fraca atmosfera e cenários
incoerentes. A ideia de que estamos a explorar um hotel cai por terra quando
chegamos a um piso que compreende um vasto oceano, e outro que consiste num
deserto. Adicionalmente, os seus fantasmas são criaturas miseráveis que não têm
qualquer propósito na sua não-vida para além de importunar o Luigi.
Em contrapartida, eu sou capaz de desenhar uma planta da mansão
do primeiro Luigi’s Mansion de memória. Ironicamente, esta mansão foi criada de
um dia para o outro pelos Boos, mas consegue ser mais realista do que qualquer
outra localização da série. A maioria das suas divisões está perfeitamente
inserida no que encontraríamos numa mansão, e uma porção significativa dos seus
habitantes é completamente indiferente ao Luigi até ele implacável e impiedosamente
iniciar os confrontos. Esta adesão à plausibilidade resulta num jogo curto, mas
extremamente memorável e com elevado replay value.
Tal significará que a imersão é uma consequência direta do
realismo? É uma noção comum, tanto que Filipe Mesquita afirma que a direção
mais arcade de DOOM Eternal pode prejudicar o realismo. Discordo
completamente: o que importa é a plausibilidade intrauniverso. Atrevo-me a
dizer que, quanto mais distintas forem as regras do mundo de jogo das do mundo
real, mais facilmente aceito a realidade apresentada. Tenho bastante
facilidade em ficar imerso num mundo de Mario 3D que, precisamente por ser tão
fantasioso e distanciado da nossa realidade, consegue traçar as suas próprias
regras. Em contraposição, um jogo que almeje o realismo inevitavelmente será
incoerente nalgum aspeto. Red Dead Redemption 2 recebeu incontáveis elogios com
base no seu realismo e atenção minuciosa ao detalhe… e é por esta atenção não
ser universal e eu notar algumas quebras no realismo que não fico embebido no
mundo. Como é que o jogo pode preocupar-se tanto com a preservação da
fertilidade dos equinos, ao mesmo tempo que permite que as armas se teletransportem entre Arthur Morgan e o seu cavalo?
Falando em quebras no realismo, no texto centrado em Control de Filipe Castro Mesquita ele disserta que “poucas coisas quebram
mais a imersão do que a imagem e o som a não baterem certo”. Eu extrapolo um
pouco mais: qualquer acontecimento que prejudique a integridade, causalidade
e apresentação do universo é um obstáculo à imersão. Seja a falta de
animações faciais em Aeterno Blade 2, as falhas nas físicas em Superliminal, ou
os t-poses (e milhentos outros problemas) em Cyberpunk 2077, basta um
empurrãozinho para todo o nosso envolvimento ser atirado pela janela.
Agora, basta de olhar para exemplos negativos! Mais
do que saber o que evitar, é necessário aprender com os mestres do ofício e,
por isso, vou debruçar-me sobre os três títulos em que mais fiquei imerso na minha
vida: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hollow Knight e Pikmin.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild não tem uma história
de fundo muito desenvolvida, mas o que tem é um dos melhores sistemas de
físicas, mecânicas e inteligência artificial dos videojogos. Tudo em Breath of
the Wild opera em concordância com as nossas expectativas e lógica, explorando
os limites das habilidades de Link e dos objetos que encontramos. Não é por
acaso que, até hoje, continuam a ser feitas novas descobertas no jogo: esta
jornada de Link é um convite irresistível à experimentação. Se juntarmos a este trabalho um
mapa vasto e recheado de segredos para encontrar, ficamos perante a melhor e
mais imersiva experiência de mundo aberto até à data da publicação (espero mesmo que só até à data da publicação!). E o curioso é que The Legend of Zelda:
Breath of the Wild não é isento de problemas ou inconveniências: escalar à
chuva é moroso e desgastante, a degradação das armas é demasiado rápida, a
quantidade de inimigos únicos deixa a desejar, etc.. Todavia, nenhum destes defeitos
entra em conflito com o funcionamento do universo, e todos estes pontos negativos inserem-se de um modo compreensível nesta iteração do reino de Hyrule.
Por seu lado, Hollow Knight brilha
também no seu imaculado polimento, mas tem interações substancialmente mais limitadas:
todas as ações que temos ao nosso dispor apenas servem para a travessia das áreas
ou para o combate. Independentemente disso, este indie de excelência, e o
único título ao qual este estimado redator atribuiu a nota máxima, conseguiu a proeza de nos introduzir a uma localização igualmente viva – noutro
acesso de ironia, visto que o reino de Hallownest se encontra numa eterna estase.
Novamente, encontramos uma região
recheada de segredos, sendo a maior parte das tarefas e locais que podemos
visitar em Hollow Knight opcionais para terminar o título. Aliás, existem
imensos bosses singulares que são totalmente opcionais e, por isso, só existem para
enriquecer a variedade de Hallownest. Ao longo da nossa aventura, cruzamo-nos
recorrentemente e espontaneamente com personagens como Quirrel, que se
encontram nas suas próprias peripécias pessoais independentes das nossas ações.
Até nas personagens com as patas coladas ao chão encontramos evolução significativa
ao longo do tempo, como Myla, e uma das áreas iniciais do título sofre
alterações drásticas quando a revisitamos após um certo ponto da progressão. Hallownest,
em virtude desta mutabilidade e da riqueza de bosses e segredos, torna-se num reino
credível, mesmo sendo habitado por insetos que combatem com agulhas e magia.
Por fim, Pikmin (1) é o título
inaugural e mais rudimentar na série e, mesmo assim, é o ápice em imersão da
trilogia. Aliás, eu acredito que é precisamente por ser o título mais rudimentar
que é o mais imersivo. Nos três jogos Pikmin, acompanhamos um astronauta que se
vê preso num planeta desconhecido, sem qualquer sinal de vida inteligente, preenchido
por animais que indiferentemente nos adicionam à sua dieta. Esta é uma série em
que os nossos inimigos não são vilões megalomaníacos, mas sim banais criaturas que
obedecem à simples e indiferente hostilidade da natureza. É esta indiferença
que Pikmin captura na perfeição, não deixando que o “jogo” invada artificialmente
a “experiência”, o que é sobejamente evidente nos bosses. Nenhum surge
com uma cinemática, nenhum tem limitações do dano que podemos provocar por
fase, poucos têm uma música de batalha específica e quase todos surgem integrados no mundo em vez de restritos a uma arena de boss, ao contrário do que
verificamos nas entradas subsequentes da série.
Um ponto de ligação entre estas
três experiências é que quase todas as ações realizadas pelos protagonistas
destes jogos são comandadas diretamente pela mão do jogador, não sendo comum
assistirmos a transições de jogabilidade para cinemáticas nas quais a nossa
personagem atua de forma independente – o que gera uma relação mais íntima
entre nós e o nosso avatar no mundo virtual.
 Reviewed by Tiago Sá
on
maio 11, 2023
Rating:
Reviewed by Tiago Sá
on
maio 11, 2023
Rating:





.jpg)














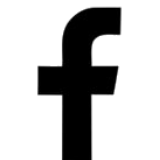

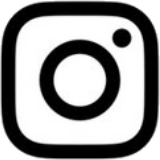





Sem comentários: