Se há algo que eu gosto é quando uma
série me acompanha ao longo dos anos, não só marcando presença na minha vida,
mas também refletindo o meu próprio crescimento. E no meu caso, não há melhor
exemplo do que as aventuras do ex-deus da guerra conhecido como Kratos. As suas
peripécias violentas foram um escape perfeito para quando eu era um adolescente
nerd e zangado, e agora, enquanto adulto nerd e mais em controlo das minhas
emoções, o renascer das cinzas deste protagonista ressoou bastante em mim. É,
portanto, com enorme antecipação que pego em God of War: Ragnarök e me preparo
mais uma vez para ver como me revejo nesta nova história de crescimento pessoal
e relacional de Kratos e do seu filho Atreus. Será God of War: Ragnarök
uma experiência intemporal merecedora de entrar em Valhalla? Ou deixar-nos-á
com vontade de desejar a chegada rápida do fim do mundo?
Em God of War: Ragnarök
encontramos um Kratos e um Atreus mais velhos em alguns anos, e um mundo em
pleno Fimbulvetr – o longo inverno que antecede o fim dos tempos conhecido como
Ragnarök. Depois de conhecer uma profecia acerca do seu destino, Kratos insiste
em treinar Atreus para que seja capaz de sobreviver a qualquer ameaça. Já um Atreus
pré-adolescente continua sem saber quem é e qual será o seu papel na derradeira
batalha que se avizinha, tentando desvendar o seu destino à revelia do seu pai.
Mas tudo é precipitado quando os deuses de Asgard se põem em marcha, levando Kratos e
Atreus a ter de fazer os possíveis para enfrentar e sobreviver às novas ameaças
que vão sendo colocadas nos seus caminhos.
Se à superfície esta parece ser mais uma
história simples, desenganem-se. Este é um jogo com uma história de proporções
épicas que anda à volta de temáticas complexas como o amor entre um pai e um
filho, predestinação contra livre-arbítrio, redenção ou reincidência em velhos
hábitos e vícios, e valor da vingança contra o valor do perdão. Já parece mais
complexo, não é? Mas God of War: Ragnarök faz um belíssimo trabalho em descomplicar estes temas, introduzindo-as e resolvendo-as com um brilhantismo como nem eu, nos meus dias mais otimistas, acharia possível.
Todas estas temáticas estão incrivelmente bem misturadas nos
arcos narrativos de Kratos, Atreus, ou Freya, bem como nos arcos de alguns dos
antagonistas mais memoráveis dos últimos tempos, como os de Thor ou Odin. Ver
como cada personagem começa e acaba nesta narrativa é impressionante e
imprevisível, com todos, mas todos os momentos de desenvolvimento a serem
credíveis e impactantes. Os pontos altos da história são dos mais altos que já
vi nesta indústria, os “socos emocionais” são poderosíssimos, e as reviravoltas
deixaram-me literalmente com as mãos a tentar tapar a minha boca aberta. Ultimamente,
têm sido poucas as histórias que me agarram logo no primeiro minuto e me mantêm
pregado ao ecrã e ao comando até ao fim, mas louvados sejam os deuses, esta
história agarrou-me e ainda não me largou – mesmo uma boa semana depois de a
ter acabado, não consigo parar de pensar nela.
Portanto sim, se a história do jogo de 2018
já era excelente, esta eleva ainda mais a fasquia. Mas atenção, que não é só da
narrativa principal que falo, mas também de todo o conteúdo secundário e
pós-jogo. As missões secundárias deixaram de ser tarefas acessórias, passando a
contribuir imenso para o aprofundamento da história do mundo e para o percurso
narrativo de várias personagens. As missões de pós-jogo aprofundam as
implicações do desfecho da história principal e atiram-nos ainda com mais uma
reviravolta ou duas incrivelmente impactantes e memoráveis. Mesmo os pequeninos
colecionáveis se apresentam como veículos narrativos interessantíssimos – sim,
mesmo a caça aos corvos, que era uma distração da treta no jogo anterior, tem
aqui um desfecho que vale mesmo a pena o esforço.
Acreditem, God of War: Ragnarök
merece que se veja e viva tudo o que tem para oferecer, e nem precisa de pedir
que o façamos – nós ficamos com uma vontade genuína de revirar cada pedra posta
no jogo. Até porque muito provavelmente vai demorar um bom bocado até surgir
outro jogo tão incrivelmente bonito quanto este, seja em que consola for ou
sejam quais forem as capacidades das próximas placas gráficas.
Se God of War: Ragnarök começa com
praticamente tudo em tons de azul e cinza – afinal de contas, Midgard está a
passar pelo tal longo inverno -, assim que viajamos para outros reinos
rapidamente regressamos à explosão de cores e vivacidade que já tínhamos vivido
em 2018. Muitos destes reinos são reincidentes, como Alfheim ou Helheim, mas desta vez a
aventura leva-nos a explorar todos os reinos da mitologia nórdica, incluindo
Svartalfheim, Vanaheim ou Asgard. Mais uma vez, cada reino apresenta-se como um
pequeno mundo aberto que podemos explorar à nossa vontade, desde que tenhamos
as ferramentas necessárias para desbloquear todos os seus caminhos. Esta exploração
ocupou-me a grande maioria das cerca de 56 horas que já passei neste jogo. E não
foi só por causa dos colecionáveis necessários para a platina, mas sobretudo
porque fiquei deslumbrado com o detalhe ambiental.
God of War: Ragnarök
é um jogo lindíssimo. A variedade arquitetónica e ao nível da fauna e flora
entre cada reino é incrível, o nível de detalhe de cada pequenina textura é
impressionante, e todas as vistas são de se ficar sem fôlego. Nem vos sei dizer
a quantidade de vezes que fiquei simplesmente parado a admirar o detalhe e a
beleza de uma paisagem, ou simplesmente parado porque estava convencido que o
jogo ainda estava numa sequência cinemática quando afinal não. Ah sim, porque
diferenças gráficas entre estar em controlo ou estar a ver uma cena programada
a desenrolar-se são zero. A nitidez, as animações, o detalhe e a fidelidade são
sempre impressionantes. E claro que o truque da “câmara única”
está de regresso, dando a toda a experiência um nível de imersão imensurável.
E nenhuma história poderia ser tão
impactante se as animações das personagens não estivessem no ponto. Os movimentos
são todos tão fluidos, quer estejamos simplesmente a andar pelo mundo, a trepar
paredes rochosas ou a enfrentar inimigos com um décimo do nosso
tamanho ou 10 vezes maiores. Aqui há, claro, muitíssimo mérito da
direção artística e dos animadores, mas também dos atores. Todos os atores e
todas as atrizes, sem falta, fizeram aqui um trabalho exemplar do qual se
poderão orgulhar para o resto das suas vidas. Tanto ao nível da captura motora
como ao nível dos desempenhos de voz, está tudo perfeito. Não há uma fala cuja
entrega eu tenha ficado a achar que poderia ter sido melhor, não há uma falha
na voz que esteja a mais, não há uma expressão não-verbal que choque com o tom
da cena. Faço uma vénia a Christopher Judge, Sunny Suljic, Danielle Bisutti, Ryan
Hurst e todo o restante elenco, sem tirar nem pôr.
E a música? Pelos deuses, a música volta
a ser fenomenal. A mistura de elementos musicais dos jogos da era da mitologia
grega com trilhas produzidas para os dois jogos mais recentes volta a dar um
impacto brutal em algumas das cenas em que Kratos parece estar a recair em
velhos hábitos. Os sons com ritmos mais acelerados ou com ritmos mais suaves
enaltecem, respetivamente, as cenas mais trágicas ou ferozes e as cenas mais
emocionais e de reflexão. E todos os pequenos efeitos sonoros, como guinchos monstruosos
dos inimigos ou o choque do metal das nossas armas contra a carne das criaturas
que enfrentamos voltam a ser impecáveis e a cumprir com distinção o objetivo de
dar mais peso e impacto do combate.
E já que falo nisso, sim, o combate é mais
um aspeto onde as melhorias entre a entrada de 2018 e este jogo voltam a ser
bastante palpáveis. Cada uma das três armas com que terminamos o jogo tem uma “skill
tree” mais ampla do que antes, com mais capacidades para usar em combate.
Voltamos a ter habilidades rúnicas equipáveis para cada arma – uma forte e uma
fraca -, também aqui em número maior e com utilidades mais variadas. Podemos
também equipar diferentes escudos cujas capacidades se focam em vertentes de jogabilidade
diferentes – defesa máxima, contra-ataque, atordoamento, entre outras. Outra
novidade é o facto de podermos equipar uma de várias relíquias que nos permitem
usufruir de habilidades diferentes em combate ou, em alguns casos, desvendar
mistérios espalhados pelo mundo.
Somado a isto tudo, temos ainda a possibilidade de voltarmos a personalizar muito do que equipamos em Kratos (e não só).
É possível equipar diferentes armaduras, cada qual confere um boost a
algumas estatísticas possíveis (por exemplo, vida, ataque, defesa ou sorte), ou
até equipar cada arma com novos cabos ou punhos que também interferem nessas
estatísticas. God of War: Ragnarök incorpora estes elementos de RPG, mas
não é nem tenta ser um. Jogar como Kratos é jogar como Kratos – os ataques base
e as suas combinações são sempre iguais, são sempre impactantes e brutas independentemente
de como equipamos o antigo deus da guerra. Mas estes equipáveis parecem influenciar
mais os resultados nas nossas ações e dos confrontos com inimigos, sendo aqui possível
criar builds diferentes e verdadeiramente adaptáveis a cada situação que
temos de enfrentar.
E sim, sem me alongar muito para não
entrar em terrenos repletos de spoilers, Kratos não é a única personagem
jogável, e Atreus não é o único companheiro que vamos tendo ao longo da
história. Vou só dizer rapidamente que a outra personagem jogável tem um estilo
bem diferente do de Kratos, mas é tão divertido jogar com ele ou ela. Já as
diferenças entre os companheiros não são tão acentuadas quanto isso, ocorrendo
mais para desenvolver personagens ou alguns elementos da história. Apesar de
desejar que essas diferenças fossem mais visíveis, os momentos narrativos que se propiciam são tão bons, que não prejudica minimamente a minha
impressão geral do jogo.
Agora, olhando para a diversidade dos
inimigos, uma das vertentes mais criticadas de God of War (2018) – e bem,
na minha opinião -, tenho imenso gosto em verificar que Ragnarök vai diretamente
ao encontro das críticas. Os minibosses já não são todos trolls com tons de
pele distintos, e os inimigos já não são quase todos draugr. Há muitíssima mais
variedade de inimigos comuns, de bosses e de minibosses, e, consequentemente, os
confrontos com inimigos destas duas últimas categorias são bastante mais
memoráveis e deixam uma impressão bem mais duradoura. Há minibosses reincidentes,
não há que o negar, mas mesmo esta repetição está muito bem incorporada na
narrativa e na história do mundo que estamos a explorar. Para além disso, todos
os inimigos se apresentam como muito mais capazes e inteligentes desta vez.
Cada criatura tem um leque maior de habilidades e de estratégias de combate que
vai variando bastante bem consoante a situação, obrigando-nos a estar sempre atentos
e preparados para mudar de e tática quando necessário.
O único defeito para o qual me parece não
haver grande justificação prende-se com a resolução de puzzles. Se eu me
considero uma pessoa impaciente, nem sei como qualificar Mimir e os outros
companheiros de viagem que vamos tendo, porque a sua intolerância a puzzles é incrível.
Sempre que chegava a um puzzle, bastava perder 20 segundos a observar os seus
mecanismos ou ambiente circundante que era logo bombardeado com uma indicação
do género “é isto que tens de fazer” ou “a solução está ali.” Tudo isto faz-me
sentir bastante melhor em relação à minha impaciência, mas preferia que o jogo
não me quisesse segurar na mão sempre que atravessava uma rua – até porque
enquanto homem com 30 anos, é uma imagem um bocado embaraçosa.
E só porque sei que alguns de vocês o irão
questionar por serem incrivelmente picuinhas com estas coisas – ou seja, por
serem exatamente como eu -, sim, voltamos a ter vários corredores apertados
através dos quais nos arrastamos lentamente, e a viagem entre reinos volta a pôr-nos
naquele percurso entre mundos onde temos de esperar que um portal se abra. Mas
estes momentos aqui são muito melhor concretizados. Ainda que possam ser necessários para os loadings se estiverem a jogar numa PS4 (na PS5 certamente não o são), estes momentos são
sempre aproveitados para introduzir um interessante diálogo entre as
personagens ou para mais um momento de exposição que aprofunda ou contextualiza
a história ou o reino onde nos encontramos. Ou seja, estes momentos estão aqui disfarçados como narrativos – e como a narrativa é sempre excelente, o
que poderia ser visto como algo chato passa a ser algo sempre interessante.
Para terminar em beleza, quero só referir
que God of War: Ragnarök corre na perfeição. Os tempos de carregamento
entre mortes são rapidíssimos, o jogo corre impecavelmente e sem qualquer
quebra a 60 fotogramas por segundo nos modos de desempenho, e as utilizações do
feedback háptico e dos gatilhos adaptativos não é exagerada, estão no ponto
certo. Graficamente não houve um único soluço, no que toca ao som foi sempre
tudo perfeito, e num jogo tão amplo, tão longo e com tanto para ver e fazer,
tive apenas um bug menor e de fácil resolução – um companheiro a ficar parado
depois de descer uma corrente, mesmo ao lado de um portal para viajar entre
reinos que resolveu o assunto.
Seja qual for o ângulo a partir do qual
olhamos para God of War: Ragnarök, estamos perante um jogo que roça a
perfeição. Não é só um dos melhores jogos do ano, é, na minha opinião, um dos
jogos mais bem conseguidos de sempre. Assim que o acabei, fiquei com vontade de
recomeçar tudo, de rejogar God of War (2018) e esta sequela para viver
estas aventuras do início ao fim outra vez. E, se calhar, vou aproveitar que o
código que nos foi fornecido (e pelo qual estamos imensamente gratos, claro) incluir
também a versão PS4 do jogo para platinar God of War: Ragnarök pela
segunda vez – e, sem dúvida, voltar a divertir-me à brava enquanto o faço.
Conclusões
God
of War: Ragnarök é simplesmente uma experiência divinal,
a todos os níveis. De alguma forma, consegue melhorar em tudo face à fenomenal
entrada de 2018. A história, a jogabilidade, o design ambiental, a consistência
técnica, os desempenhos – é tudo absolutamente impecável. Esta obra de arte é
desafiante, é impactante, é empolgante, é emocionante, é tocante e é belíssima.
Por tudo e mais alguma coisa, este é um título que merece entrar para o panteão
de uma das melhores obras da nossa indústria. Não há jogos perfeitos, mas raios
me partam se God of War: Ragnarök não está incrivelmente perto dessa
proeza.
O Melhor:
- A história é constantemente intrigante e
emotiva, com imensos pontos altos;
- As missões secundárias e o pós-jogo são
sempre envolventes;
- Os desempenhos de todos os atores estão
perfeitos;
- Visualmente é um jogo diverso e com
alguns dos ambientes mais belos de contemplar;
- A jogabilidade é bastante diversa e
personalizável;
- O combate é impactante e desafiante, com
inimigos mais variados e mais inteligentes;
- É praticamente perfeito de um ponto de
vista técnico.
O Pior:
- Companheiros demasiado metediços na
resolução de puzzles.
Pontuação
do GameForces – 10/10
Título: God of War: Ragnarök
Desenvolvedora: Santa
Monica Studio
Publicadora: PlayStation
Studios
Ano:
2022
Nota: Esta análise foi realizada
com base na versão digital do jogo para a PlayStation 5, através de um código
gentilmente cedido pela PlayStation Portugal.
Autor da Análise: Filipe Castro Mesquita
 Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
dezembro 01, 2022
Rating:
Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
dezembro 01, 2022
Rating:
 Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
dezembro 01, 2022
Rating:
Reviewed by Filipe Castro Mesquita
on
dezembro 01, 2022
Rating:













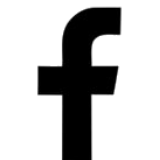

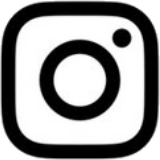





Sem comentários: